Jean Marc von der Weid, Julho de 2024
As Políticas Públicas têm favorecido a transição agroecológica?
Já tratei do tema em outros artigos de modo que vou apenas fazer um resumo e discutir a evolução das posições da sociedade civil, dos partidos e dos agentes públicos em relação ao tema da promoção da agroecologia.
A percepção do modelo convencional de desenvolvimento da agricultura como sendo o único viável e mesmo o ideal, foi dominante no Brasil desde os tempos em que os militares promoviam a modernização do latifúndio à força de subsídios e pressões. Na sociedade civil as vozes críticas se limitavam a lamentar os custos sociais deste modelo, como o fez o professor e futuro assessor do PT e de Lula para assuntos agrários e agrícolas, José Graziano da Silva, ex-diretor geral da FAO. No seu livro seminal dos anos setenta, “A modernização dolorosa”, Graziano mostrou como estava sendo promovida a transformação do latifúndio para vir a conformar o que hoje se chama de agronegócio.
Apesar da forte crítica sobre os “dolorosos” impactos sociais (expulsão de milhões de famílias de agricultores familiares, entre outros), o autor nunca pôs em questão que aquele caminho era inevitável e mesmo desejável. Como bom representante do pensamento da esquerda leninista/stalinista, Graziano não discutia o modelo tecnológico, mas a sua apropriação social.
A esquerda, aqui como na maior parte do mundo, ainda discutia com base nos mesmos paradigmas que orientaram os governos soviético, cubano, chinês e, mais recentemente, nicaraguense. A diferença com a proposta capitalista estava na natureza da propriedade: privada, coletiva ou estatal. Mas o modelo técnico era e é o mesmo: monoculturas, insumos químicos, sementes melhoradas, maquinário.
Nos movimentos sociais do campo prevalecia, nos setores mais à esquerda que foram se agrupar no MST, o modelo nicaraguense, muito próximo do cubano, com empresas estatais predominando no espaço rural. Já na CONTAG existia uma dicotomia entre a defesa do “pequeno produtor” e a tendência deste público a buscar deixar de ser pequeno e “enricar”. Até a CONTAG mudar a sua concepção sobre a sua base e adotar o conceito de produtor familiar havia uma contradição entre a defesa dos “pequenos” e a formação de um conjunto social mais abonado, sobretudo no sul do país. Superar o conceito de “pequeno agricultor” permitiu que se legitimasse o movimento de “enricar”, mantendo a identidade de agricultor familiar, distinta do empresariado rural capitalista, o agronegócio.
Mas o modelo produtivo usado por esta camada mais capitalizada da agricultura familiar, que vinha se destacando dos setores mais pauperizados e qualificados como “pequenos”, foi a mesma empregada pelo agronegócio e isto deu margem para que este setor fosse apelidado de “agronegocinho”. Como verificado por estudos em todo o mundo, cada vez que, por iniciativa e recursos próprios ou com recursos públicos, a agricultura familiar embarcou na adoção do modelo convencional agroquímico e motomecanizado, o resultado foi uma clivagem socioeconômica onde a maioria fracassou e uma minoria “enricou”.
As vozes críticas ao modelo convencional foram poucas embora com forte conteúdo técnico científico. Os nomes mais conhecidos são os de Ana Maria Primavesi, José Lutzemberger, Adilson Pascoal, Pinheiro Machado. Clamaram no deserto conceitual dos anos 70 e começaram a ser ouvidos nos anos oitenta, com o surgimento de lideranças questionadoras nas organizações de engenheiros agrônomos como Lazarini, Santiago e o recém falecido e ícone do movimento de agricultura orgânica, Manuel Baltazar Batista da Costa.
O movimento crítico ao modelo convencional adotou um conceito mal definido para identificar o modelo que propunha: agricultura alternativa. Esta denominação encobria várias diferenças conceituais e até distintos movimentos: agricultura natural, orgânica, biodinâmica, simbiótica. Com toda a imprecisão propositiva, este movimento foi importante pela afirmação de uma crítica ao modelo convencional que ia além dos impactos sociais negativos, para incorporar os impactos ambientais. Mais tarde os elementos críticos passaram a incorporar também os custos energéticos e das matérias primas de adubos e agrotóxicos na avaliação do modelo convencional. E, finalmente, consolidou-se uma visão crítica que incorporou o conceito de sustentabilidade para condenar o modelo convencional.
Ainda nos anos oitenta, a AS-PTA (Agricultura Familiar e Agroecologia), ONG que eu fundei em 1983, “descobriu” o conceito de agroecologia, traduzindo e reeditando mais de 10 vezes o livro seminal de Miguel Altieri, “Agroecologia, a base científica da agricultura alternativa”. Foi o ponto de partida para o movimento agroecológico no Brasil, adotado primeiro por ONGs de assistência técnica para a agricultura familiar e que foi ganhando apoio em entidades de base do campesinato, até a criação, em 2002, da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), incorporando centenas de organizações camponesas de base e com a participação de todas as entidades de coordenação dos movimentos sociais do campo, muito embora estas últimas tivessem uma adesão apenas parcial à proposta.
Nos governos que se sucederam desde o fim da ditadura militar prevaleceu politicamente a proposta de apoiar a agricultura familiar, como leve contraponto ao apoio generoso ao cada vez mais pujante agronegócio. Começou um esforço de redistribuição de terras, com uma reforma agrária realizada nas margens das áreas de interesse do agronegócio e adotando, de forma precária e descontinua, políticas de promoção do modelo agrícola convencional nos assentamentos. Apesar da pressão dos movimentos camponeses, esta reforma agrária nasceu torta e não podia dar certo.
O pensamento grazianista que propunha a modernização conservadora da agricultura familiar prevaleceu, tanto nos governos de FHC como nos de Lula e de Dilma. Para os polos dominantes em todos estes governos, a posição expressa pelo ministro da Fazenda de FHC, Pedro Malan, sempre foi a que mais claramente revelava a essência das políticas para o campesinato: “a evolução da agricultura levará à resolução dos conflitos de terra. Em mais uma ou duas gerações a agricultura brasileira será como a americana, com grandes propriedades altamente tecnificadas e uma produção familiar residual”. Para o ministro, enquanto isto não ocorria, o governo deveria apenas dirimir as áreas de conflito e tratar a grande maioria do campesinato como “problema social” e não como potencial produtivo. E foi o que se fez, ao longo de 30 anos, embora este princípio orientador nunca tenha ficado tão explicito como na citada fala do ministro (escutada por este autor e citada de memória, com o perdão de eventuais imprecisões).
Nestes 40 anos de movimento pela agroecologia (e agricultura orgânica ou biodinâmica) o maior resultado conseguido foi a legitimação da proposta junto aos movimentos sociais, em particular a Via Campesina, que veio a adotá-la já no governo de Dilma. As outras grandes centrais dos movimentos sociais no campo foram menos radicais na sua adesão à agroecologia, dividindo o foco com o da promoção do “agro negocinho”. No entanto, o impacto da promoção da agroecologia nas bases destas organizações camponesas foi diminuto neste longo período.
Sem que se tenha uma avalição mais precisa, o que se pode dizer é que houve um crescimento limitado da agricultura orgânica certificada (inclusive com um recuo entre os censos de 2006 e 2017), chegando a uns 70 mil produtores. Já os produtores agroecológicos podem ser estimados, entre os diferentes estágios de transição, em 150 mil. Estas bases estão muito dispersas, sendo que mesmo em territórios mais homogêneos (social e politicamente) como os assentamentos da reforma agrária, os grupos envolvidos na transição são minoritários. Ainda não temos, no Brasil, um só território onde a totalidade dos produtores tenha se envolvido na transição e quiçá, sequer um com a maioria. Isto torna a propagação da proposta mais limitada, pela falta de visibilidade das experiências.
Como já escrevi antes nesta série de artigos, o conceito de agroecologia e os métodos necessários para a sua promoção não estão bem definidos nem adotados de forma generalizada pelos praticantes da proposta. Isto é natural em todo movimento em seu nascedouro e, apesar de 40 anos de atividades, é o caso do movimento agroecológico.
Se os praticantes não têm um domínio claro dos conceitos e métodos, seria preciso um milagre para que os formuladores das políticas públicas fossem capazes de encontrar as propostas adequadas para uma adoção mais ampla e acelerada da agroecologia pelo campesinato brasileiro.
Ao longo dos governos populares o que se fez foi repetir, de forma ampliada, as mesmas políticas dos governos FHC. Crédito, seguro, pesquisa, assistência técnica, compras governamentais. Todas estas políticas apontaram para a mesma direção: fortalecer a adoção da agricultura convencional. Alguns recursos, bem menores, foram dirigidos para a promoção da agroecologia, mas as políticas foram formuladas de forma tão inadequada que ficaram praticamente sem efeito. A única exceção a esta regra foi a política de ATER, que chegou a colocar recursos mais significativos para as ONGs de promoção da agroecologia, mas com regras condicionantes tão inadequadas que, a meu ver, levaram a um forte recuo no uso de metodologias adequadas.
Já no momento presente, no governo Lula III, estamos assistindo uma situação esquizofrênica no MDA. O discurso do ministério e do Ministro magnificam o conceito de agroecologia e se propõem a aplicá-lo, enquanto os recursos são gastos exatamente como nos governos passados. Mesmo os poucos caraminguás dirigidos explicitamente para a agroecologia encontram as mesmas barreiras burocráticas já enfrentadas no passado.
O que pode fazer este governo e o MDA para promover a agroecologia no Brasil?
Para minha surpresa, apesar das críticas explicitas dos dirigentes do MST ao trabalho do MDA, não apareceu nenhuma proposta alternativa para ser negociada com o governo. O mesmo pode ser dito sobre os outros movimentos sociais do campo, a CONTAG e a CONTRAF. O Conselho de Desenvolvimento Rural da Agricultura Familiar, o CONDRAF, reinaugurado e ampliado na representação da sociedade civil, tampouco não foi capaz de propor nenhuma política ou conjunto de políticas alternativas. Não creio, inclusive, que tenha feito qualquer revisão crítica das políticas do passado.
Como já defendi em outros artigos, não creio que se possa mudar a natureza das políticas de promoção do desenvolvimento nas condições atuais das experiencias e da compreensão da agroecologia tanto dos praticantes como dos formuladores das políticas.
O que se pode fazer é escolher alguns programas onde centrar os recursos existentes. Repito, falo de programas e não de políticas.
Uma política tem caráter universal, dirigida “a quem interessar possa”. Assim sendo, o Pronaf dirigiu uma linha de crédito para a agroecologia. Esta linha estava disponível em todas as agências bancárias que operavam o programa. Qualquer agricultor que quisesse este tipo de recurso poderia, teoricamente, ir ao banco e apresentar um projeto. Além das orientações dadas pelo Pronaf para a formulação deste projeto terem sido absurdas, um agricultor que conseguisse apresentá-lo iria competir com todos os outros agricultores que apresentariam projetos convencionais na mesma agência. A prática mostrou que os gerentes preferiam apostar nos projetos convencionais, que eles conheciam melhor e que lhes davam mais segurança. Como não havia nenhuma obrigação para gastar os recursos em projetos de agroecologia, eles foram marginalizados.
Em um programa, o público e o território deste público são definidos e os recursos podem chegar a eles de forma direta e não em competição em uma agência bancária.
No caso da promoção do desenvolvimento agroecológico ficar por conta de políticas “universais”, os recursos terão que ser acessados separadamente, com projetos específicos para cada despesa. Um projeto para ATER, outro para crédito, outro para compras governamentais etc. Em um programa todos os recursos estarão sob controle de uma só fonte pagadora (o BNDES, por exemplo) e necessitando apenas um projeto integrado. Haverá concorrência por estes recursos, é claro, mas entre pares, entidades ou consórcios de entidades voltadas para o mesmo objeto.
Para não dispersar recursos com muitos projetos com pouco dinheiro (este MDA está morrendo à mingua) o mais seguro seria centrar no programa de “quintais produtivos”. Já defendi este programa em outro artigo e aqui só vou explicitar porque é a melhor opção para o MDA (e para o MDS).
Um programa de quintais produtivos agroecológicos dirigidos para 300 mil mulheres nos próximos três anos, com previsão de expansão para um milhão em mais quatro anos, vai cobrar um esforço enorme em ATER, mas é algo viável.
Resolver o problema de segurança alimentar e nutricional de 300 mil famílias é um resultado excelente com um custo de investimento relativamente elevado, mas com custo de operação bastante baixo., indicando a sustentabilidade da proposta. Só o custo do Bolsa Família em cinco anos cobriria o investimento inicial.
300 mil quintais agroecológicos concentrados em territórios bem definidos, seria uma espetacular demonstração das práticas da agroecologia, além de permitir a formação de milhares de técnicos(as) nos métodos participativos mais avançados. Estes técnicos seriam a base para uma expansão mais acelerada tanto dos quintais como de outros programas em um outro governo (Lula IV?).
Centrar o foco nos quintais vai permitir que todos as iniciativas de pesquisa, de sistematização de experiências e de formação sejam direcionados, potencializando esforços hoje dispersos em múltiplas direções.
Jean Marc von der Weid
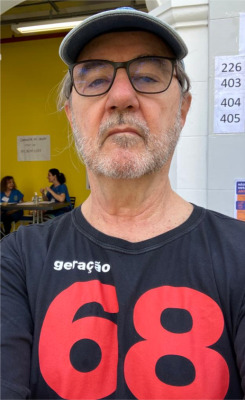
Ex-presidente da UNE entre 1969 e 1971
Fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA) em 1983
Membro do CONDRAF/MDA entre 2004 e 2016
Militante do movimento Geração 68 Sempre na Luta




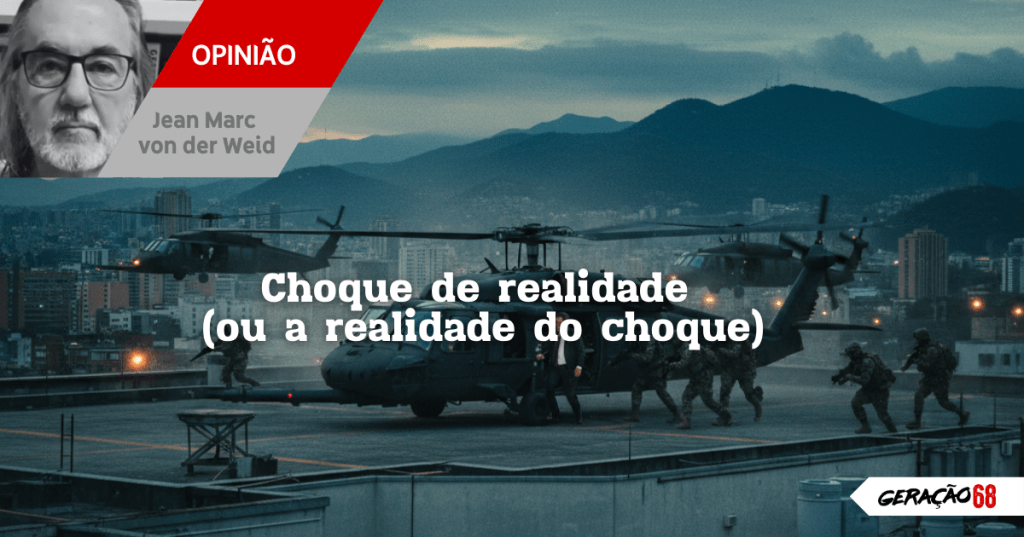
Deixe um comentário