Jean Marc von der Weid
Sem tempo para mim.
Entre preparação física, incluindo corridas pelo parque Cousiño em horas matinais em que preferia estar dormindo, e namoros sem futuro, gastei boa parte dos meus 40 dias em participações em atos políticos. Esperava ser convidado pela Federación de Estudiantes de Chile, FECH, para algum tipo de atividade, mas isto nunca aconteceu.
Através dos contatos do Serra com o MAPU, partido do qual era fundador e dirigente, encontrei a garotada do movimento estudantil deste partido. A omissão da entidade máxima dos estudantes chilenos em reconhecer a minha existência tinha a ver com o domínio da FECH pelo Partido Comunista através da JJCC, as Juventudes Comunistas de Chile. O PC chileno não via com simpatia a presença dos 70 no país. Para eles nós éramos todos perigosos esquerdistas e militaristas e eles não queriam dar palco para um de nós, mesmo para o presidente da UNE. As lideranças estudantis do MAPU me levaram de surpresa à sede da Federação, onde encontrei o presidente, Alejandro Rojas e outros dirigentes. Foi um encontro formal, embora o Alejandro fosse um tipo
simpático e a conversa tenha sido positiva. Daquele mato não saiu coelho e passei a falar em faculdades onde o MAPU liderava. O MAPU também me levou para falar para pobladores e operários em suas áreas de maior presença política. Abstive-me de fazer a defesa da luta armada, não só porque era a política da AP no Brasil, como também era a da sua contraparte chilena, o MAPU. Apesar de beneficiado pelo sequestro, um ato espetacular das organizações da luta armada, eu tinha mais do que dúvidas sobre o futuro desta opção no Brasil. Já no Chile eu não tinha a menor ideia sobre a viabilidade e/ou necessidade de uma luta armada, mas desconfiava muito de que não seria possível levar adiante a radicalidade das reformas em curso sem um enfrentamento com as forças armadas em algum momento, como ensinava a história do nosso próprio país. Os chilenos, com exceção do MIR e alguns grupos do Partido Socialista, não acreditavam na possibilidade de um golpe, apesar de ter havido uma tentativa entre a eleição e a posse de Allende. “En Chile no pasa nada”, era a frase padrão que ouvíamos. Isto foi mudando ao longo dos anos 71/73. Os muito minoritários grupos internos do PSCh acabaram formando uma fração conhecida como Elenos, o Exército de Libertação Nacional, já na fase mais aguda das contradições políticas e militares em 1973.
O MAPU rachou entre os líderes Garretón, que defendia a preparação do
enfrentamento armado com os militares e Gasmuri, que defendia uma solução política para as ameaças. Mas tudo isto estava no futuro, embora nada remoto.
A única visita fora de Santiago foi em uma comunidade de indígenas da etnia Mapuche na província de Temuco. Viajamos em um avião do governo até a capital e depois seguimos em carros por estradas cada vez piores até chegarmos a uma aldeia em uma região serrana onde fazia um frio desalmado. Tentei conversar com os meus companheiros de viagem para tentar entender a problemática econômica e social dos indígenas em geral e destes Mapuches em particular. Logo me dei conta de que eles eram “urbanóides da variedade asfáltica” e não sabiam nada do campo ou dos Mapuches, noves fora um discurso genérico sobre exploração colonial, miséria e ausência de direitos.
A casa comunitária da aldeia era uma construção de teto baixo, com poucas e estreitas janelas e uma portinha de casa de boneca onde eu tinha que passar abaixado e o Serra quase se arrastando. A sala estava repleta de indígenas vestidos com suas roupas típicas. Muitas mulheres, para minha surpresa. Pareciam todas muito gordas até que me explicaram que elas usavam várias saias sobrepostas e que nunca eram tiradas.
Quando uma ficava em farrapos ela era arrancada e outra posta por cima. Segundo me contaram, o hábito do banho não era uma característica dos indígenas. O contraste com os nossos era evidente e explicável com as condições ambientais em que cada um vivia. No nosso calor tropical os indígenas andavam seminus e viviam tomando banho, achando um horror o cheiro dos portugueses que vieram “descobri-los”. Na serra gelada do sul do Chile as roupas e os hábitos de higiene eram outros e com boas razões.
Mas dentro daquele espaço acanhado e atulhado de gente, o calor era forte e logo todos e todas se puseram a transpirar copiosamente, eu inclusive. O cheiro que dominou o ambiente só era comparável ao do metrô de Paris na hora do rush no período do início da primavera, quando alguns dias já eram quentes mas a calefação não tinha sido desligada e os parisienses ainda andavam cobertos de casacos e sobretudos.
O Serra começou a passar mal e pediu para sair, branco que nem papel e com um lenço na boca e nariz. Mal deu tempo para passar a portinha e vomitou. Outros dois parceiros do MAPU também tomaram o caminho do relento, enjoados com a
humanidade aromática. Aguentei o tranco junto com meu tradutor português/
espanhol. O que traduzia o espanhol para o mapuche era local e não foi afetado.
Segundo ele, a maioria dos homens falava espanhol ou, pelo menos, entendia um
espanhol lento e bem pronunciado, mas as mulheres, em ampla maioria, só se
comunicavam em mapuche.
Fiz um discurso de solidariedade com os povos originários no Chile e no Brasil e da importância do reconhecimento das suas culturas e tradições e direito a suas terras. No fundo eu não tinha muito o que dizer, já que quase não tinha ideia da problemática indígena no Brasil, e menos ainda no Chile. O tradutor para o mapuche fez uma versão do que eu disse muito mais veemente e longa e suspeito que ele reinventou o discurso.
Seja como for, foi um sucesso.
Entre outras peripécias, aceitei acompanhar a Nancy Mangabeira Unger, outra cidadã dos 70 com dupla nacionalidade, americano/baiana, em seu contato com a embaixada dos EUA. Fomos recebidos por um funcionário que, mais tarde, ficou conhecido como sendo o agente máximo da CIA na articulação do golpe. Tanto ele como os outros funcionários com os quais tivemos contato foram muito simpáticos, muito mais do que os suíços que me tinham recebido. Mas os sorrisos não os impediram de negar o passaporte que a Nancy solicitava. Ofereceram um salvo-conduto para ela voltar aos EUA e lá ela poderia regularizar sua situação e receber um passaporte. Nancy não topou ir para os Estados Unidos por medo de ser presa por lá, já que tinha participado de uma tentativa furada de sequestro do cônsul americano em Recife. Saímos de mãos
abanando da embaixada. Tentei convencer a Nancy de peitar a ida aos EUA,
aproveitando os contatos do Serra com vários políticos e acadêmicos naquele país, de modo a fazer da sua chegada lá uma apoteose política. Nancy escarneceu da minha “ilusão pequeno burguesa”, por confiar que a CIA não ia pegá-la, legalmente ou via um atentado qualquer. Quando fui aos EUA pela primeira vez, em 1972, também me disseram que corria riscos horríveis. Intuitivamente e analiticamente eu sempre achei que supervalorizávamos a nossa importância e que a CIA provavelmente tinha mais o que fazer do que correr atrás de nós. Mas deve ser o meu desvio pequeno burguês, que o Wilson chamava de “suinice liberal”.
Naqueles dias havia um programa quase que diário em que muitos nos encontrávamos: ir receber parentes e amigos no aeroporto de Pudahuel. Eu sabia que não ia receber visitas por total impossibilidade da minha família, mas gastava de acompanhar companheiros e assistir aos encontros emocionados. Ficávamos em grupos no terraço do aeroporto, olhando o desembarque à distância e a caminhada dos passageiros em nossa direção, quando entravam nas dependências da aduana que ficava bem debaixo de onde nos reuníamos. Em uma dessas, o Brito e o Marcão, meus eternos companheiros de aventuras, me puxaram para um canto e disseram, excitados: “aquele cara tá nos seguindo! Olha só como ele fica nos espionando por trás do jornal que ele finge ler. Já vi esta cara em algum lugar”. Olhei para o sujeito, mas ele não me lembrou ninguém. Não tinha pinta de chileno, nem no físico nem na maneira de vestir.
“Deve ser um agente infiltrado da repressão brasileira”, disse o Brito e partiu para abordar o cidadão, que lia distraído. Marcão sentou-se em uma cadeira de um lado e Brito do outro e eu fiquei em pé na frente do gajo. Ele baixou o jornal surpreso e logo assustado com o ar ameaçador dos dois. “Jean, sou eu, lembra? Teodoro, da engenharia da PUC. Estivemos juntos em Ibiúna”, gaguejou ele com os olhos arregalados. Caiu a minha ficha e lembrei dele, Teodoro Buarque de Holanda e logo estávamos conversando a quatro sem problemas.
Este clima de paranoia era forte entre os 70 e foram muitas as histórias de gente que “viu” o Fleury em Santiago. Até campanas para investigar estas aparições aconteceram.
Havia os casos mais graves como o do Tito, obcecado pelo fantasma do seu algoz, o que acabou levando-o ao suicídio na França, mas gente menos traumatizada também entrava nessa pilha. Numa destas visitas ao aeroporto acompanhei o Jaimão que ia receber a Gris, sua irmã.
Encontramos um bando de brasileiros, vários dos 70, também na ansiosa espera de parentes. Nos postamos no terraço, o avião da Varig parou a uma boa distância e mal víamos os passageiros que desciam as escadas ao longe. De repente uma figura chamou a atenção de todos por usar uma capa preta, botas também pretas até o meio das coxas e uma saia ou short bem curto, de onde estávamos não dava para ver o que era. Foi um frisson e todo mundo começou a falar sobre aquela aparição sensacional que descia majestosamente as escadas do avião e começava a longa caminhada em nossa direção. “É a filha do Zorro”, gritou o Wellington. “Es una famosa cantante colombiana que llega para el festival de música de Viña del Mar”, soltou um chileno
próximo ao nosso grupo. Mais um minutinho e o Jaimão gritou: “é a minha irmã,
porra”! Era a Gris. Ela era modelo de capa de revista e usava um figurino ultra avançado até para o Rio de Janeiro, imagine naquele Chile conservador! Eu sempre a tinha visto de jeans e camiseta visitando o irmão na Ilha das Flores ou no rapidíssimo e emocionante encontro comigo no Galeão, na véspera da partida dos 70 para o Chile.
Pensei com os meus botões: “é muita areia para o meu caminhãozinho. Será que ela ainda está apaixonada”? A sensualidade da roupa, combinada com um andar idem, foi aumentando à medida que a Gris se aproximava e logo o grupo de brasileiros e também os chilenos no terraço começaram a aplaudir e acenar para ela. Assim que entrou no prédio descemos para esperar a abertura das portas da aduana. Havia um monte de gente esperando, inclusive vários de repórteres e fotógrafos, justamente porque havia o festival de Viña e chegavam celebridades do mundo da música. As portas correram e a Gris veio direto em minha direção e me abraçou. Foi um amaço/beijo espetacular, digno de filme, até que fomos cercados por jornalistas que queriam entrevistar a “celebridade”. Abrimos caminho pela multidão, com o Jaimão meio vexado com a total falta de atenção da irmã. Depois foram “days of wine and roses”,
esquecendo do mundo, do futuro e do passado para viver apenas aquele brevíssimo presente. Pena que durou tão pouco e logo estávamos nos despedindo e eu partindo para a Europa na minha nova missão. Um raio de luz e ternura no universo duro e racional da militância que exigia tudo de nós e tudo entregávamos.
Continua…
Jean Marc Von der Weid
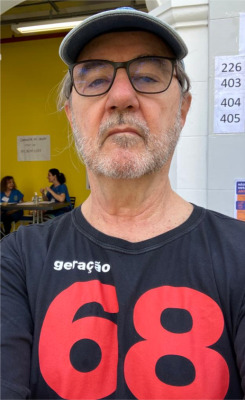
Ex-presidente da UNE entre 1969 e 1971. Fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA) em 1983. Membro do CONDRAF/MDA entre 2004 e 2016. Militante do movimento Geração 68 Sempre na Luta




Deixe um comentário