Jean Marc von der Weid, junho de 2023
Ainda bem que avisei das minhas prováveis falhas de memória nesta etapa destes escritos. Estava convencido de que tinha levado o Marcão para a embaixada da Argentina e até atribuí a ele a esperteza de testar o portão do jardim antes de tentar a entrada principal, que tinha dois pacos vigiando. Tudo falso. Marcão já estava na embaixada do México quando fui procurá-lo na casa que compartia com o Sérgio Pinho na avenida Grécia. Na ausência do Marcão, aproveitaram a viagem o Gabeira e a Vera Sílvia, que lá tinham ido se refugiar quando o prédio onde moravam foi “allanado”. O próprio Sérgio decidiu aderir à fuga via embaixada, depois de ter refugado ir para a do México. Fico pensando em como foi que a minha memória me pregou esta treta. Imagino que foi porque a minha intenção era ajudar um grande amigo, que já tinha sido mais rápido na busca de refúgio.
Conversando com um grupo de 8 amigos e ex-refugiados no Chile dias atrás, discutimos um outro exemplo de memórias criativas. O Jaimão afirmou, e não foi a primeira vez, que eu fumava cachimbo na Ilha das Flores. Chiquinho confirmou e Reinaldo, chamado ao telefone para testemunhar, idem. Não adiantou eu repetir que nunca fumei nada, cigarro, charuto, cachimbo, narguilé ou cigarrilha até 1972. Em agosto daquele ano, em visita ao Chile para reuniões da AP, comprei meu primeiro cachimbo, um BBB de tamanho médio, de boquilha reta, que fumei até uns 10 anos atrás, quando o uso prolongado abriu um rombo no fundo. Desde 72, fumei cachimbos e uma cigarrilha feita com restos de charutos havanos, chamada em francês de “dechets d’havanne”. Como todo mundo levou décadas me vendo fumar cachimbos, passaram a estender este fato em direção ao passado.
Como dizia o tenente Joel, no meu tempo de serviço militar no Corpo de Fuzileiros Navais, ao contestar as minhas justificativas e me mandar para uma das muitas detenções que sofri: “isto explica, mas não justifica, soldado 201”.
Santiago, na primeira semana pós golpe:
Não me lembro quem me levou ao Arrudão, Diógenes de Arruda Câmara, quadro histórico do PCdoB que ficou meu amigo na sua breve passagem pela Ilha das Flores. Deve ter sido o Amarílio, mas não me lembro como o encontrei. Fomos até um apartamento onde o Arrudão estava escondido e ele nos recebeu cercado por dezenas de caixotes empilhados na sala. Discutimos a situação e ele resistiu a entrar na embaixada, no caso a da Argentina, por achar que ainda havia a chance de uma resistência armada contra o golpe. Convencido de que isto era uma “ilusion de l’esprit”, ele ainda protestou por se sentir responsável pelo amplo material do PCdoB que nos comprimia naquele apartamentinho. Eram publicações das Edições de Pequim, em português. Obras do presidente Mao em profusão, esperando serem mandadas para o Brasil, destinadas a formar os militantes no “sendero luminoso” do pensamento do líder da revolução chinesa. Discuti com o Arruda que aquilo era só papel e que podia ser reposto no futuro, enquanto ele era um quadro dirigente cuja perda seria enorme, mas ele só aceitou ir para uma embaixada depois de me fazer jurar que buscaria mandar as caixas pelo correio para um endereço seguro. Perjurei na hora, para garantir a fuga do “Velho”, como era carinhosamente chamado. Já no carro, ele nos fez rumar para a embaixada da China, apesar de informarmos que ela estava fechada para refugiados. “Os camaradas chineses me conhecem e vão me receber”, afirmou ele, e não tivemos remédio senão fazer uma tentativa que sabíamos vã.
A enorme embaixada da China era cercada por um muro alto e tinha um portão fechado do mesmo porte, com uns quatro pacos na porta. Não deixei o Arruda ir bater no portão. Estacionamos a alguma distância e eu fui sozinho tentar entrar com o meu artifício de me apresentar como funcionário da embaixada Suíça. Conversei com os pacos, que me disseram que ninguém entrava nem saía da embaixada desde o golpe e que dois tipos que saltaram o muro pularam para fora tão rápido como entraram. Me deixaram tocar a campainha, mas ninguém respondeu. Olhei por uma fresta e vi vultos circulando na varanda, ignorando a estridente chamada. De volta ao carro, o Arruda finalmente se conformou a ir para a embaixada da Argentina. Teve tanta sorte que nem havia pacos no portão na hora que entrou. O que ele e todos nós não sabíamos é que o regime maoísta estava por reconhecer a junta militar, feliz por ver o fim de um governo, do qual faziam parte aliados do “social imperialismo” soviético, os comunistas chilenos, na época ferozes inimigos dos chineses.
Na sequência e não me lembro como aconteceu, encontrei com o Reinaldo (José de Melo), outro dos membros do PIF (partido da Ilha das Flores, apelido irônico inventado pelo Wellington, para os 8 egressos daquele presídio saídos no sequestro). Este outro amigão que eu procurava, andava pela rua com um ar catatônico e mal reagiu quando eu o xinguei por estar dando bobeira. Contou-me suas dramáticas aventuras, tentando resistir nos cordões industriais, armado de um 32. Na primeira fábrica em que se juntou a um grupo de operários ficaram esperando as armas prometidas pelos “elenos” (Exército de Libertação Nacional) do Partido Socialista Chileno nas primeiras horas do golpe. Sem notícias, o grupo dispersou-se e Reinaldo se dirigiu para a grande fábrica (era de tecidos?) Yarur, onde muitos operários e pobladores tinham se agrupado para resistir, tal como tinha sido a consigna que eu tinha questionado no MAPU, meses antes. Algumas dezenas de armas de fogo de baixo calibre e muitos molotovs era tudo que tinham para enfrentar a infantaria e a artilharia do exército chileno. Aguentaram algumas horas, mas foram dominados e Reinaldo fugiu junto com outros sobreviventes. “Morreu muita gente”, repetia ele várias vezes. Marcamos um ponto mais tarde, perto da embaixada da Venezuela. Fui até lá antes, e combinei com um responsável que ele deixaria um portão menor sem tranca, pois no principal eram muitos os pacos. Orientei o Reinaldo para atravessar a rua e ir direto para este portão sem olhar à volta. Neste bairro (acho que era Las Condes) havia grupos de momios civis reunidos nas esquinas e um contingente de pacos no portão principal da embaixada, muito mais do que na da Argentina. Se o portão menor não estivesse aberto, o Reinaldo não tinha rota de fuga e estaria perdido. Fui para o outro lado da rua para observar os acontecimentos e, para meu alívio, a porta abriu-se quando os pacos já estavam correndo na direção do meu amigo. Ele acabou se asilando na Alemanha e em Moçambique e só voltei a vê-lo de novo no Brasil pós anistia.
Descrevendo este episódio, me dei conta de que ele se situou quase 10 dias depois do golpe, pois quem dirigiu o carro em que eu circulava era a Anette Goldberg. Anette estava casada/juntada com o Wainer, mas não quis segui-lo quando ele se refugiou na embaixada do México, logo após a suspensão do toque de queda. Ela tinha situação legal e não queria perdê-la, enfiando-se em uma embaixada para tornar-se uma exilada. Não me lembro quando e como a encontrei, mas sei que foi logo depois que convenci a Márcia a entrar na embaixada da Argentina, já que a barra estava ficando pesada e ela não tinha a mesma proteção que eu. Anette se dispôs a me ajudar, dirigindo um dos carros que fui “herdando”, à medida que seus donos iam se refugiando aqui e ali e me entregando as chaves. Também herdei vários “aparelhos”, mas preferi, sempre que possível, ficar em casas de pessoas com situação regular, em geral funcionários da CEPAL, da FLACSO, da OPAS, entre outras entidades internacionais. Foram vários brasileiros, suecos, mexicanos, franceses, chilenos e suíços, homens e mulheres corajosos e solidários. Eles acabaram formando um grupo informal de apoio, uma vez postos em contato por mim, e seguiram atuando depois que eu me mandei para a Argentina.
A ajuda da Anette durou pouco, dois ou três dias. Depois do tenso episódio da escapada do Reinaldo ela me pediu para passar a noite na casa dela, pois tinha medo de ficar sozinha com uma vizinhança prá lá de momia. Prometi fazê-lo a partir do dia seguinte, já que naquela noite tinha combinado dormir na residência de um brasileiro funcionário da CEPAL. No dia seguinte, passei para buscá-la e encontrei a casa vazia, com o pastor alemão do Wainer, o Koba, correndo como louco pelo jardim. Acalmei o cão e entrei na casa, que tinha sido revirada e saqueada. Deixei comida e água para o lindo animal e saí, encontrando um grupo de garotos jogando bola na rua. Perguntei o que tinha acontecido e eles me disseram que os pacos tinham vindo cedo e levado “la señorita”. Foi sorte que os papais e mamães dos guris estarem ausentes ou eu teria sido importunado, já que foram eles que chamaram os pacos para prender os “terroristas brasileiros”. Pedi aos garotos que adotassem o Koba ou ele morreria de fome e sede naquela casa fantasma. Anette foi parar no Estadio Nacional, onde ficou por semanas até que a sua família conseguiu que a embaixada brasileira interviesse e ela pôde viajar para a Argentina, onde voltamos a nos ver.
Mais uma vez a sorte funcionou para me proteger. Se tivesse passado a noite na casa da Anette havia uma boa chance dos pacos me levarem para investigações apesar das minhas credenciais suíças. A própria prisão da Anette, malgrado seu passaporte brasileiro válido, mostrava que a fúria contra os estrangeiros da repressão chilena não distinguia os “legais” dos outros. Uma vez preso nas engrenagens do Estadio Nacional, o perigo dos militares brasileiros (que foram prontamente para Santiago ajudar os “hermanos” chilenos) chegarem a me identificar era grande e então: babau para a proteção diplomática suíça.
Entre os múltiplos refúgios em que passei não mais do que uma noite, recordo um que foi emblemático, mais pela conversa com meu hospedeiro. Fui parar na casa do pai da Sonia Lafoz, que já estava abrigada em uma embaixada. Não me lembro do primeiro nome do velho Lafoz, um catalão anarquista que tinha participado do levante popular liderado por esta corrente em Barcelona, em 1936. Ao longo de uma noite de reminiscências ele me contou detalhes dos três dias de combates de rua e o cerco dos quartéis da Guardia Civil, sublevados em apoio aos nacionalistas do general Franco. “No teníamos armas para todos, y los grupos de anarquistas se organizaron siguiendo un de los que tenian un fuzil o pistola. Cuando el que estava armado caía en una balacera otro del grupo tomava el arma y seguia el combate. Fui el quinto de mi grupo a usar una arma”. Esta discussão ocorreu quando eu tentava explicar como é que o milhão de manifestantes de menos de uma semana antes do golpe tinham assistido sem reagir ao avanço dos militares golpistas no dia 11. “O povo estava desarmado”, era o meu argumento. Lafoz esbravejava: “tampoco teniamos armas en Barcelona. Las fuimos buscar en las manos de los faxistas. Lo que hace falta aqui son cojones”. A meu ver o que faltou foi direção política para a ação militar de resistência. Faltou a consigna emblemática de Allende no dia do tancaço: “vengan a La Moneda con lo que tengan”.
Segundo o que li depois sobre a guerra civil espanhola, a tomada do quartel general da Guardia Civil pelos anarquistas foi quase que a socos, dentadas e facadas, já que as armas de fogo, molotovs e dinamite eram poucos.
A história do velho Lafoz prosseguiu com a crítica feroz aos comunistas espanhóis, que acabaram dissolvendo as organizações anarquistas e trotskistas ao longo da guerra civil, liquidando as direções em expurgos sangrentos. Ele acabou se refugiando na França e, na Segunda Guerra Mundial, lutando na resistência aos nazistas. O grupo em que atuava foi sendo liquidado pela Gestapo e ele escapou fugindo para a Argélia. Nesta colônia francesa, Lafoz se juntou ao Front Nacional de Liberation na guerrilha urbana em Alger, nos anos cinquenta. Quando os paraquedistas franceses liquidaram a guerrilha em um ano de combates e massacres na batalha de Alger, Lafoz partiu, mais uma vez, escapando para o Brasil. Sônia nasceu em Alger e foi criada no Brasil. Quando ocorreu o golpe de 1964, o velho já não militava, mas a filha entrou para a resistência armada na VPR, apoiada pelo pai. As circunstâncias da luta armada levaram a Sônia, ferida em combate, a sair do Brasil e se refugiar no Chile. O velho Lafoz foi atrás, casado com uma brasileira mais nova do que sua filha e montou uma oficina mecânica, se bem me lembro. Quando perguntei se iria acompanhar a Sônia em uma embaixada, ele me disse que estava cansado de fugir e que iria ficar no Chile. “Perdi todas las luchas en que me meti. En España, Francia, Argelia. Sonia perdió en Brasil. En Francia y Argelia las vitórias llegaron después que ya me habia ido. Nunca tuve el gusto de estar entre los victoriosos. Ahora quiero vivir mis últimos dias tranquilo”. Nunca soube o que houve com ele, se ficou no Chile ou se foi para a França, onde a Sônia se radicou depois do golpe.
Jean Marc von der Weid
Ex-presidente da UNE
Banido para o Chile em 1971
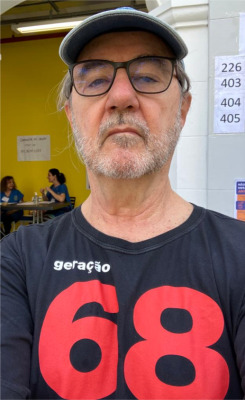





Deixe um comentário