Jean Marc von der Weid, agosto de 2023
Introdução: Neste artigo não vou tratar de outros casos de entradas em embaixadas, mas mostrar o papel de um personagem importante na peleia para salvar os exilados no Chile e outro mostrando minha estratégia de segurança naqueles dias e um efeito imprevisível e extraordinário do meu disfarce. Finalmente, arremato esta vivência mostrando parte do que se passou depois da minha saída do Chile.
O homem da Cruz Vermelha Internacional (CICR, na sigla em francês).
Não guardei o nome do funcionário da CVI que chegou a Santiago em um dos primeiros aviões a pousar depois da reabertura do país ao exterior. Era um suíço com pinta de burocrata, sempre bem arrumado e formal, mas uma figura disposta a tudo para ajudar os perseguidos. Andava com um manual com a legislação internacional sobre os direitos dos presos e que citava a todo momento. Conseguiu licença para visitar os presos nos estádios de Chile e Nacional e vivia azucrinando as autoridades com inquéritos sobre desaparecidos. A Junta andava pisando em ovos para evitar mais conflitos com países estrangeiros, depois de duas freiras francesas serem mortas “por engano”. Havia pelo menos um americano desaparecido e que foi objeto de um filme memorável do Costa Gravas (“Desaparecido” ou, em inglês “Missing”). Este foi morto pelos militares, provavelmente com o conhecimento e aprovação dos agentes da CIA em Santiago. Outro americano foi preso em Valparaíso, mas foi solto e veio a morar no Brasil, onde está até hoje, trabalhando como intérprete (viajou com o Lula várias vezes durante seu primeiro governo). Houve outros incidentes com estrangeiros de países que tinham apoiado ou reconhecido a Junta, como a Suíça. O homem da CVI aproveitou esta situação de constrangimento do regime para conseguir entrar nos campos de prisioneiros, negociando transferências para os abrigos que foi criando em Santiago e buscando informações sobre os desaparecidos.
Organizei um sistema de troca de dados permanente com a CVI. Todos os dias, durante a última semana que passei no Chile, encontrei com este funcionário em seu quarto no hotel Carrera, o Sheraton de Santiago, localizado bem ao lado do palácio La Moneda, arrasado pelos bombardeios, todo esburacado de tiros e canhonaços e cheirando a queimado dos incêndios. Às cinco da tarde ele me esperava para uma rápida troca de papéis onde cada um escrevia os dados que dispunha. Eram listas de nomes que trocavam de mãos, com ou sem respostas sobre a situação de cada um. Lembro em particular de dois companheiros que eu não conhecia, mas cujos nomes me faziam tremer pela sua sorte: Lenine Abdiel e Carol Stalin. No quadro de paranoia da milicada chilena, estes nomes deviam ser uma espécie de pano vermelho sacudido nos olhos de um touro. Saí do Chile sem saber o paradeiro deles e levei muito tempo para ter a informação de que tinham escapado, apesar de seus nomes chamativos para a fúria anticomunista que tomou conta do país.
Lá pela minha quarta ou quinta visita aconteceu uma previsível falha. Como o toque de recolher era às seis, minhas tratativas com o suíço terminavam, no máximo, às 5:30 e eu saía disparado pelas escadarias do hotel e pela alameda O’Higgins, correndo como um maratonista até as Torres San Borja, uns dois quilômetros de distância. Neste dia eu me atrasei, discutindo a situação de companheiros que não estavam em Santiago e eram 5:45 quando comecei a minha corrida. A avenida estava quase deserta de transeuntes que, como eu, corriam em direção a algum abrigo. Os soldados começaram a dar tiros para o ar, divertindo-se a ver-nos acelerar a corrida, estimulados pelo medo. Mas não deu tempo e, quando soaram as seis da tarde (os sinos da catedral?), eu estava na esquina de uma transversal, ao lado do prédio da universidade católica, a uns duzentos metros das Torres. Olhando para um e outro lado da rua antes de atravessá-la deparei com um jipe do exército com uma metralhadora ponto 50 montada e que disparou contra um grupo que cruzava a rua mais longe, à minha esquerda. Éramos três atrasados escondidos pelas paredes da universidade e esperando que o jipe se fosse ou que se voltasse para o outro lado. Não me lembro quantos minutos ficamos naquela angústia, mas a situação ficou mais arriscada pelo fato de que outro jipe estava subindo a avenida atrás de nós e logo nos alcançaria. Decidi arriscar e recuei uns 10 metros para ganhar velocidade e atravessei a rua, uns 30 metros, acelerado pelo pavor de ser atingido. Eu sabia muito bem o efeito que podia ter uma só daquelas balas, pois tinha usado uma arma semelhante no meu tempo de serviço militar. Se fosse atingido, ela arrancaria uma perna, braço ou cabeça e me lançaria ao solo pelo impacto. Não olhei para o jipe, mas ouvi a rajada longa que o filho da mãe disparou e senti o vento das balas passando, acho eu, pouco acima da minha cabeça. Segui correndo até a porta do prédio, onde estava morando e só olhei para trás depois de entrar. Não ouvi outras rajadas, mas também não vi se os meus companheiros de desgraça tinham atravessado ou tomado outro rumo. Subi para o 22º andar com o corpo tremendo do choque de adrenalina, ofegando e suando do medo e da corrida. A vida andava sempre por um fio, mesmo para um “imortal” como eu.
Na minha última visita ao homem da CVI, ele me deu um recado de brasileiros que ele tinha visto naquele dia no Estádio Nacional. “Diga ao Jean que o Mike (um oficial do CENIMAR que tinha me interrogado na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro) andou por aqui perguntando por ele e mostrando uma foto para identificação”. O interesse da repressão brasileira pela minha pessoa, em pleno tumulto do golpe chileno, era um péssimo sinal. No mesmo dia, eu tinha recebido outro aviso, este dado pelo embaixador suíço. “A embaixada recebeu uma queixa da Junta, sobre as atividades de um funcionário suíço que estaria facilitando a entrada de fugitivos em embaixadas. Você não está se fazendo passar por funcionário, está?”. “Claro que não”, foi a minha resposta, mas o recado estava dado e a minha cobertura estava exposta. Era hora de tirar o time e marquei a minha passagem para Buenos Ayres para o dia seguinte e pedi ao embaixador uma “escolta” oficial para poder embarcar com alguma proteção. No dia seguinte, ele me mandou o seu carro oficial, com bandeirinha suíça e tudo, e a companhia do cônsul. Ele ficou ao meu lado em todo o trâmite na polícia do aeroporto de Pudahuel e me levou até a porta do avião da Swissair. Tive melhor sorte do que o Serra, que fez o mesmo movimento com o cônsul da Itália, foi preso na porta do avião e levado para o Estádio Nacional. Ele conseguiu ser solto devido à confusão na triagem dos presos que chegavam aos magotes no Estádio e voltou para a embaixada, onde ficou por seis meses até ganhar um sofrido salvo conduto para viajar.
As “piranhas”
Minha maior dificuldade para montar a minha cobertura legal no Chile estava em como explicar que, sendo um turista, não tinha saído do país assim que foi reaberto o aeroporto, lá pelo final da primeira semana do golpe. Eu tinha adotado um visual de mauricinho, começando a metamorfose já durante os três dias de toque de queda em que fiquei refugiado na casa do Amarílio. Raspei a barba e assim que pude fui a um barbeiro e cortei o cabelo bem curto. Mais tarde comprei um terno e uma pastinha daquelas chamadas de 007 para ficar com pinta de empresário. Mas o mais importante foi a carta que pedi a amigos na Suíça, trazida por um jornalista que chegou pouco depois de reaberto o aeroporto. A carta, cheia de formalidades, me nomeava representante de uma empresa fictícia de compra e venda de antiguidades. Para dar mais veracidade ao meu papel de negociante, passei a comprar objetos raros que vendi, com perdas, a outros negociantes. Como já contei em outro artigo, eu tinha conseguido uma boa grana trocando dólares no dia do golpe e retrocando-os dias depois. Desta forma tinha como gastar para manter as aparências do meu “negócio”.
Em um destes antiquários, o proprietário, depois de me vender algumas peças caras, me perguntou se tinha interesse em outros negócios. “Um suíço sempre se interessa por bons negócios”, disse eu, “mas não tenho mandato para outra coisa do que comprar antiguidades. Se for algo vantajoso posso entrar em contato com empresários que podem se interessar.” O sujeito aceitou estas limitações e me disse que tinha contatos com pessoas que poderiam oferecer negócios interessantes para todos e me convidou para jantar na sua casa e me apresentar o proponente. “E como fazer com o toque de queda?”, perguntei. “Não se preocupe com isso, tenho como conseguir um salvo conduto”. Isto dito, aceitei o convite e fomos diretamente para uma casa espetacular em Providencia (Los Leones, eu acho), onde ele me apresentou a esposa e filha e ficamos tomando pisco Sauer e comendo entradinhas à espera do empresário. Até hoje me pergunto por que me meti nesta situação. Acho que fui me enredando na minha falsa identidade e com medo de atrair desconfianças se eu recusasse o convite.
Lá pelas 8 horas da noite, soou uma buzina no portão do casarão e quando ele foi aberto entrou um jipe do exército com um oficial e três soldados bem armados. Como se dizia em passado remoto, a alma caiu-me aos pés. Idiota, pensei, caí em uma arapuca ridiculamente! O meu anfitrião e a esposa foram receber o recém-chegado com muita festa e logo me foi apresentado como um coronel (esqueço o nome). Entendi que era irmão da dona da casa e ele me cumprimentou afavelmente. Respirei fundo e ganhei confiança no meu papel de empresário cheirando um bom negócio.
O jantar foi dos melhores que comi no Chile naqueles tempos, com vinhos que nunca tinha ouvido falar e que davam surras nos Tarapacás que eu costumava consumir. Com taças de bom conhaque e charutos (“a única coisa boa cubana que existe”, disse o coronel) nas mãos, a conversa começou. Vou resumir a proposta e juro que não exagero nada, embora mais de uma pessoa a quem contei esta doideira me tenha acusado de inventar o caso. Aceito que parece incrível, mas logo verão que não foi um caso raro no Chile pós golpe.
O coronel me disse que estava trabalhando em uma unidade do governo da Junta que estava privatizando (ou reprivatizando) empresas que tinham sido nacionalizadas pelo governo Allende. Havia uma decisão de não devolver as propriedades para os empresários que tinham abandonado o país depois de expropriados. E os ativos estavam sendo avaliados para venda a empresários interessados. Ele tinha um portfólio de indústrias de médio porte para privatizar e buscava compradores. Mas havia um senão: ele garantia preços muito favoráveis, desde que o comprador aceitasse um acordo “de gaveta” no qual ele mesmo entraria como sócio oculto. Mostrou-me uma pasta com dados sobre uma indústria metalúrgica que produzia latas (tarros em chilenês) de vários tipos e tamanhos para o setor de alimentos. Aparentemente era um negócio da china e quase caí da cadeira quando ele me disse o valor a desembolsar. Era ridículo! Se bem me lembro, não chegava a cem mil dólares. Fingi grande excitação pela oportunidade, fiquei com uma cópia do dossiê e disse que ia entrar em contato com empresários suíços com a oferta. Ia levar algum tempo, é claro, mas o coronel não se incomodou e fiquei de manter contato através do antiquário. Como sinal de boa vontade, ele me deu um salvo conduto para circular durante o toque de recolher e só esta preciosidade já justificou a papagaiada.
Levei este contato em banho-maria, visitando o antiquário em sua loja de vez em quando, até que dei o fora sem maiores explicações.
Três anos depois, quando fazia mestrado na Sorbonne, conheci um chileno exilado cuja tese se intitulava: “Las pirañas: la nueva burguesia militar chilena”, ou algo parecido. Assisti a defesa de tese e conversei bastante com ele em Paris e fiquei sabendo que aquilo que eu tinha assistido em Santiago era o começo de um processo amplo em que oficiais encarregados da privatização se locupletaram em sociedade com investidores, atraindo-os com preços ridículos para os bens comprados. Soube depois que até o Café Haiti, de propriedade da Caixinha de Solidariedade dos exilados brasileiros, fez parte destas negociatas. O Ferreira, depois do afastamento de Pinochet, tentou recuperar a posse do próspero estabelecimento, mas sem sucesso. Me pergunto quem terá adquirido a indústria que me foi ofertada e o que aconteceu com ela desde então.
Epílogo:
Cheguei à Buenos Aires em Outubro, dias depois da chegada de Perón e do massacre de Ezeiza. A imensa multidão de peronistas de todos os tipos que foi receber o caudilho foi brutalmente sacudida por uma queda de braço entre a direita e os Montoneros, com os primeiros disparando contra os segundos, matando dezenas de pessoas e ferindo centenas de outras. Embora o clima político ainda fosse de grande efervescência, o recado de Perón foi claro, ao justificar seus apoiadores à direita e acusar os Montoneros de montar uma provocação.
Eu estava firmemente decidido a ficar morando na Argentina, onde a família da minha avó paterna era parte da aristocracia local. O nome altissonante era misto de espanhol e inglês: Saavedra Woodgate Mills. O patriarca morava em Belgrano em um casarão que ocupava todo um quarteirão, com jardim, piscina, quadra de tenis e cavalariças. Não precisava ser nenhum oráculo de Delfos para adivinhar que se tratava de reacionários empedernidos e não me dei ao trabalho de procurá-los.
Aceitei o convite para morar no apartamento de um professor da universidade, militante da esquerda peronista (não era Montonero), uma facção marxista do populismo argentino. Eu tinha conhecido o Pepe Nun em um seminário na Universidade de Toronto, onde ele era professor visitante três meses por ano. Ficamos amigos depois que eu o ajudei a resolver um complicadíssimo problema com um foragido americano, militante contra a guerra do Vietnã e que ele protegia, mas a história é longa e eu conto em outra ocasião.
Pepe dirigia uma revista política da sua facção e me empregou para escrever sobre o Brasil. Não era muito, mas as minhas necessidades eram módicas e ele morava muito bem, na rua lateral do Jardim Zoológico, em frente ao cercado dos bois almiscarados.
Enquanto ia levando esta nova vida de jornalista, soube que a primeira leva de refugiados da embaixada argentina em Santiago tinha chegado em Buenos Ayres, mas todos iam partir para a Europa, apoiados pela ACNUR, Agência das Nações Unidas para Refugiados. Fui vê-los em um abrigo onde estavam dormindo em camas de campanha e em quartos coletivos. Lembro de uma difícil conversa com a Vera Silvia, que estava em uma depressão preocupante e que se foi, em dois dias, para a Suécia, se não me engano.
Mais uma vez fui procurar a embaixada da Suíça para negociar refúgio para os compas brasileiros, mas o embaixador e um seu assecla que me receberam foram ainda mais azedos que seus colegas no Chile. Aguentei umas quantas provocações sem dar o troco e me despedi pensando que só muita pressão da opinião pública suíça mudaria esta política, o que de fato aconteceu, mas a conta gotas.
A segunda leva de refugiados do Chile foi levada para um hotel em Empedrado, um local à beira do rio Paraná muito frequentado por pescadores esportivos endinheirados, na província de Corrientes. Era longe pacas e só era viável de avião. Não tinha planos nem necessidade de ir até lá e os contatos com a esquerda argentina me informavam que todos os refugiados viriam em breve para Buenos Ayres, mas surgiu uma demanda inusitada. Chegou a BA o Tocha, compa do MR8 e um dos 70, vindo da Suécia com passagem no Panamá. Ele trazia uma boa grana (não me lembro quanto) recolhida no público e partidos suecos em um movimento de solidariedade com os fugidos do Chile. Não sei o que foi fazer no Panamá, mas ele se apresentava como um embaixador dos exilados brasileiros e me disse que foi recebido pelo próprio presidente Torrijos. Para assumir seu novo papel ele também se vestiu à caráter, com roupas formais, mas sendo mais maluco do que eu, elas eram para lá de exóticas e ele parecia um bicheiro rico, com direito a colar de ouro (falso) e tudo. Custei a entender por que insistiu para eu levar o dinheiro para entregar aos refugiados em Empedrado, mas aceitei porque ele pagaria a minha passagem de avião e eu queria rever os amigos e amigas que estiveram na embaixada. Desconfiei que era uma roubada quando perguntei qual o critério de distribuição do dinheiro e ele me deu carta branca para decidir. Era uma óbvia complicação pois, como diz a música do Paulinho da Viola, “dinheiro na mão é vendaval”. Fui assim mesmo, mas não anunciei aos quatro ventos o que fui fazer lá. Consultei, se bem me lembro, o Gabeira e o Liszt sobre como distribuir alguns milhares de dólares entre uns 300 exilados chilenos, brasileiros, uruguaios, peruanos, bolivianos e colombianos. Acabamos por decidir procurar os dirigentes políticos de cada nacionalidade, o que colocava outra complicação. Havia chilenos do PS, do PC e do MAPU (o MIR tinha dado ordens para nenhum militante se exilar). Os brasileiros eram ainda mais fragmentados, com a maioria tendo deixado seus partidos de origem. O mesmo se dava com as outras nacionalidades, mas eram muito menos numerosos. Fizemos um rateio pelo número de membros de cada comunidade e a distribuição interna foi acertada dentro de cada grupo. Não podia deixar de gerar insatisfações e desconfianças. Como o dinheiro tinha sido arrecadado por um brasileiro e trazido por outro, pairaram desconfianças de que teríamos privilegiado os nossos compatriotas. Fui abordado por chilenos que reivindicavam mais recursos para os seus, pois achavam que a comunidade brasileira era “rica”. De fato, alguns dos nossos tinham bem mais recursos do que a média, mas era impossível sair perguntando a renda familiar de cada um para ratear a distribuição. O rateio interno entre os brasileiros não foi por igual e os mais bem aquinhoados receberam menos que os mais ferrados, sendo que alguns declinaram a ajuda. Mas eu não me meti nesta parte que deixei por conta dos interessados.
Foi nesta visita a Empedrado que conheci a Sandra, o Joca e a Flávia, os três que tinham entrado na embaixada quando para lá levei o Gabeira, Vera Silvia e Serjoca (ver artigo 2). A Sandra era de tirar o fôlego, mas não me deu pelota e o Joca perturbava todas as reuniões do grupo brasileiro (tinha 4 anos e era para lá de irrequieto). A Flávia (nove anos) era uma pré-adolescente precocemente amadurecida e bem-comportada. Não podia prever que os três iriam fazer parte do resto da minha vida, pois só comecei a minha relação com a Sandra na noite de ano novo, no Viejo Almacén, em uma celebração do grupo de brasileiros que tinha se transferido para Buenos Aires um mês mais tarde da minha visita a Empedrado. Foi uma radical mudança no meu comportamento de solteiro (leia-se: solto na buraqueira), adotando uma família inteira de uma só vez.
Daqui para frente a história já não tem a ver com o Chile e não cabe relatar aqui. Tentei ficar morando na Argentina, mas o sequestro dos irmãos Carvalho, a virada à direita do governo Perón, a ascensão da triple A e a radicalização dos grupos armados da esquerda argentina me convenceram de que era hora de voltar para a França, volta essa que foi toda uma outra epopeia em uma longa viagem por terra cruzando a América Latina.
(continua)
Jean Marc Von der Weid
Ex-presidente da UNE entre 1969 e 1971
Fundador da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia (AS-PTA) em 1983
Membro do CONDRAF/MDA entre 2004 e 2016
Militante do movimento Geração 68 Sempre na Luta
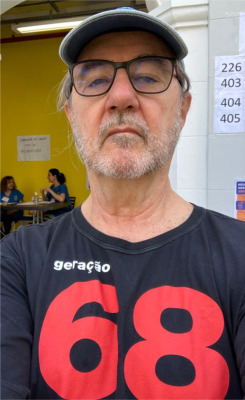





Deixe um comentário